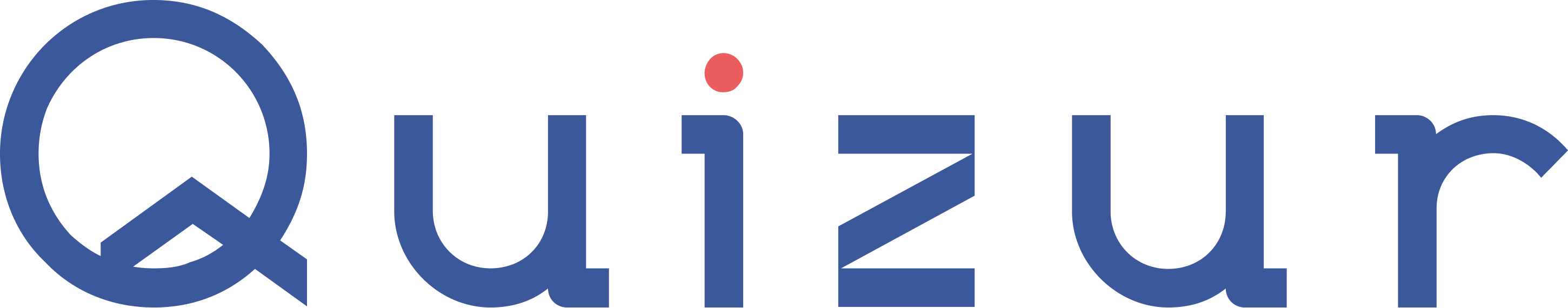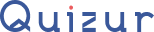Nascem os estudos sobre currículo: As teorias tradicionais
Os estudos sobre currículo nascem nos Estados Unidos,1 onde se desenvolveram duas tendências iniciais. Uma mais conservadora, com Bobbitt, que buscava igualar o sistema educacional ao sistema industrial, utilizando o modelo organizacional e administrativo de Frederick Taylor. Bobbitt encontrou ainda suporte na teoria de Ralph Tyler e na de John Dewey. O primeiro defendia a idéia de organização e desenvolvimento curricular essencialmente técnica. Por sua vez, John Dewey se preocupava com a construção da democracia liberal e considerava relevante a experiência das crianças e jovens, revelando uma postura mais progressivista. Na década de 1960 ocorreram grandes agitações e transformações. Nesse contexto começam as críticas àquelas concepções mais tradicionais e técnicas do currículo. “As teorias críticas do currículo efetuam uma completa inversão nos fundamentos das teorias tradicionais” (p. 29). Entre os estudos pioneiros está a obra A ideologia e os aparelhos ideológicos de Estado, de Louis Althusser. Sua teoria diz que “a escola contribui para a reprodução da sociedade capitalista ao transmitir, através das matérias escolares, as crenças que nos fazem vê-la como boa e desejável” (p. 32). Já a escola capitalista, de Bowles e Gintis, “enfatiza a aprendizagem, através da vivência das relações sociais da escola, das atitudes necessárias para se qualificar um bom trabalhador capitalista” (p. 3233). Por fim, A reprodução, de Bourdieu e Passeron, afirma que o currículo está baseado na cultura dominante, o que faz com que crianças das classes subalternas não dominem os códigos exigidos pela escola.2 Voltando aos Estados Unidos, vemos que, a partir dos anos 70, tendo como marco inicial a I Conferência sobre Currículo, liderada por William Pinar, surgem duas tendências críticas no campo do currículo, as quais vêm se opor às teorias de Bobbitt e Tyler. A primeira de caráter marxista, utilizando-se, por exemplo, de Gramsci e da Escola de Frankfurt. A segunda de orientação fenomenológica e hermenêutica. Aquela enfatizando “o papel das estruturas econômicas e políticas na reprodução social” (p. 38); esta enfatizando “os significados subjetivos que as pessoas dão às suas experiências pedagógicas e curriculares” (p. 38). Michael Apple, um dos expoentes nesse âmbito, parte dos elementos centrais do marxismo, colocando o currículo no centro das teorias educacionais críticas e relacionando-o às estruturas mais amplas, contribuindo assim para politizá-lo. “Apple procurou construir uma perspectiva de análise crítica do currículo que incluísse as mediações, as contradições e ambigüidades do processo de reprodução cultural e social” (p. 48). Já o currículo como política cultural, de Henry Giroux, fala numa “pedagogia da possibilidade” (p. 53) que supere as teorias de reprodução. Ele utiliza estudos da Escola de Frankfurt sobre a dinâmica cultural e a crítica da racionalidade técnica. Compreende o currículo a partir dos conceitos de emancipação e liberdade, já que vê a pedagogia e o currículo como um campo cultural de lutas. De fato, suas análises se ocupam mais com aspectos culturais do que propriamente educacionais. Ultimamente, Giroux incorporou contribuições do pós-modernismo e do pós-estruturalismo. Outro autor de destaque é Paulo Freire. Sua teoria é claramente pedagógica, não se limitando a analisar como é a educação existente, mas como deveria ser. Sua crítica ao currículo está sintetizada no conceito de educação bancária. Por outro lado, concebe o ato pedagógico como um ato dialógico em que educadores e educandos participam da escolha dos conteúdos e da construção do currículo. Antecipa a definição cultural sobre os estudos curriculares e inicia uma pedagogia pós-colonialista. Nos anos 80, Freire seria contestado pela pedagogia dos conteúdos, proposta por Demerval Saviani. Este autor critica a pedagogia pós-colonialista de Freire por enfatizar não a aquisição do saber, mas os métodos desse processo; para ele conhecimento é poder, pois a apropriação do saber universal é condição para a emancipação dos grupos excluídos. Já a ‘nova’ sociologia da educação3 busca construir um currículo que reflita mais as tradições culturais e epistemológicas dos grupos subordinados. Essa corrente se dissolveu numa variedade de perspectivas analíticas e teóricas: feminismo, estudo sobre gênero, etnia, estudos culturais, pós-modernismo, pós-estruturalismo etc. Nesse âmbito, Bernstein investiga como o currículo é organizado estruturalmente. Distingue dois tipos fundamentais de organização: no currículo tipo coleção “as áreas e campos de saber são mantidos fortemente isolados” (p. 72); no tipo integrado “as distinções entre as áreas de saber são muito menos nítidas e muito menos marcadas” (p. 72). O autor quer compreender como as diferentes classes sociais aprendem suas posições de classe via escola. Elabora então o conceito de códigos: no elaborado “os significados realizados pela pessoa – o ‘texto’ que ela produz – são relativamente independentes do contexto local” (p. 75); no restrito “o ‘texto’ produzido na interação social é fortemente dependente do contexto” (p. 75). Para ele o código elaborado é suposto pela escola, mas crianças de classe operária possuem códigos restritos, o que estaria na base do seu ‘fracasso’ escolar. Ainda de acordo com Bernstein, o currículo oculto, conceito fundamental na teoria do currículo, “constitui-se daqueles aspectos do ambiente escolar que, sem fazer parte do currículo oficial explícito, contribui de forma implícita para aprendizagens sociais relevantes” (p. 78). Na análise funcionalista o currículo oculto ensina noções tidas como universais, necessárias ao bom funcionamento das sociedades “avançadas”; já as perspectivas críticas, ao denunciálo, dizem que ele ensina em geral o conformismo, a obediência, o individualismo, a adaptação às injustas estruturas do capitalismo. Já as pós-críticas consideram importante incluir aí as dimensões de gênero, sexualidade, raça etc.
Anúncios
0
0
0
Anúncios
1
O currículo sempre existiu?
Verdadeiro
Falso
2
A ideia de Bobbitt sobre o currículo era progressista, ele defendia que o ensino deveria ser baseado na experiência dos alunos, sua educação era além da preparação para o trabalho.
Falso
Verdadeiro
3
As ideias de Bobbitt e Tyler foram criticadas, por serem consideradas modelos tecnicista de ensino?
Falso
Verdadeiro
4
John Dewey tinha o currículo como indústria?
Falso
Verdadeiro
5
Capital cultural: É garantida pela reprodução da cultura dominante.
falso
verdadeiro
6
Dominação simbólica: É o poder que se exerce por meio da imposição de significados e valores, sem o uso da força física.
Falso
Verdadeiro
7
A escola exclui?
Verdadeiro
Falso
8
Fenomenologia: Os fenomenólogos viam o currículo como um instrumento de reprodução das desigualdades de classe. Eles denunciavam como a escola servia aos interesses da elite dominante."
Falso
Verdadeiro