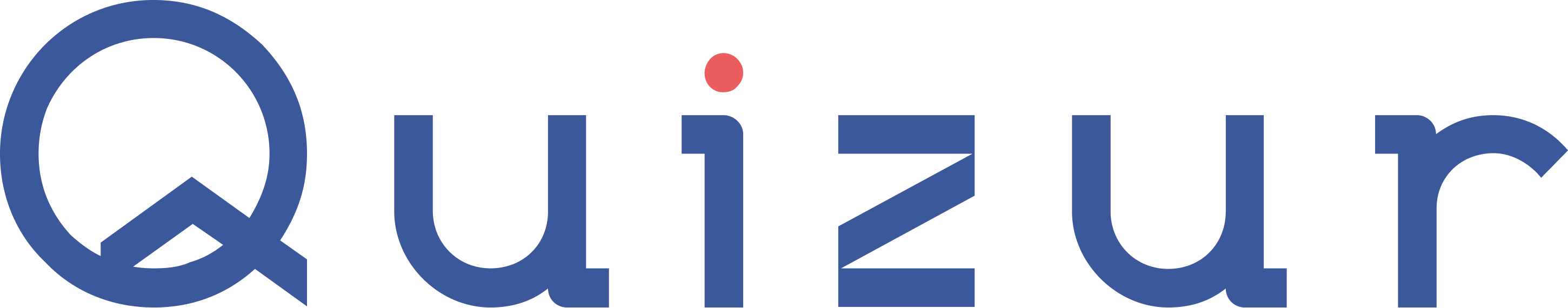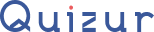Anúncios
1
Para Maquiavel, quando um homem decide dizer a verdade pondo em risco a própria integridade física, tal resolução diz respeito apenas a sua pessoa. Mas se esse mesmo homem é um chefe de Estado, os critérios pessoais não são mais adequados para decidir sobre ações cujas consequências se tornam tão amplas, já que o prejuízo não será apenas individual, mas coletivo. Nesse caso, conforme as circunstâncias e os fins a serem atingidos, pode-se decidir que o melhor para o bem comum seja mentir. ARANHA, M. L. Maquiavel: a lógica da força. São Paulo: Moderna, 2006 (adaptado). O texto aponta uma inovação na teoria política na época moderna expressa na distinção entre
idealidade e efetividade da moral.
nulidade e preservabilidade da liberdade.
objetividade e subjetividade do conhecimento.
verificabilidade e possibilidade da verdade.
ilegalidade e legitimidade do governante.
2
O fim último, causa final e desígnio dos homens, ao introduzir uma restrição sobre si mesmos sob a qual os vemos viver nos Estados, é o cuidado com sua própria conservação e com uma vida mais satisfeita; quer dizer, o desejo de sair da mísera condição de guerra que é a consequência necessária das paixões naturais dos homens, como o orgulho, a vingança e coisas semelhantes. É necessário um poder visível capaz de mantê-los em respeito, forçandoos, por medo do castigo, ao cumprimento de seus pactos e ao respeito às leis, que são contrárias a nossas paixões naturais. HOBBES, T. M. Leviatã. São Paulo: Nova Cultural, 1999 (adaptado). Para o autor, o surgimento do estado civil estabelece as condições para o ser humano
internalizar os princípios morais, objetivando a satisfação da vontade individual.
assegurar o exercício do poder, com o resgate da sua autonomia.
aderir à organização política, almejando o estabelecimento do despotismo.
obter a situação de paz, com a garantia legal do seu bem-estar.
aprofundar sua religiosidade, contribuindo para o fortalecimento da Igreja.
3
A filosofia é como uma árvore, cujas raízes são a metafísica: o tronco, a física, e os ramos que saem do tronco são todas as outras ciências, que se reduzem a três principais: a medicina, a mecânica e a moral, entendendo por moral a mais elevada e a mais perfeita porque pressupõe um saber integral das outras ciências, e é o último grau da sabedoria. DESCARTES, R. Princípios da filosofia. Lisboa: Edições 70, 1997 (adaptado). Essa construção alegórica de Descartes, acerca da condição epistemológica da filosofia, tem como objetivo
sustentar a unidade essencial do conhecimento.
refutar o elemento fundamental das crenças.
impulsionar o pensamento especulativo.
recepcionar o método experimental.
incentivar a suspensão dos juízos.
4
“Os produtos e seu consumo constituem a meta declarada do empreendimento tecnológico. Essa meta foi proposta pela primeira vez no início da Modernidade, como expectativa de que o homem poderia dominar a natureza. No entanto, essa expectativa, convertida em programa anunciado por pensadores como Descartes e Bacon e impulsionado pelo Iluminismo, não surgiu 'de um prazer de poder', 'de um mero imperialismo humano', mas da aspiração de libertar o homem e de enriquecer sua vida, física e culturalmente.” (CUPANI, A. A tecnologia como problema filosófico: três enfoques. Scientiae Studia, São Paulo, v. 2, n. 4, 2004) (adaptado). Autores da filosofia moderna, notadamente Descartes e Bacon, e o projeto iluminista concebem a ciência como uma forma de saber que almeja libertar o homem das intempéries da natureza. Nesse contexto, a investigação científica consiste em:
explicitar as leis gerais que permitem interpretar a natureza e eliminar os discursos éticos e religiosos.
ser a expressão da razão e servir de modelo para outras áreas do saber que almejam o progresso.
explicar a dinâmica presente entre os fenômenos naturais e impor limites aos debates acadêmicos.
expor a essência da verdade e resolver definitivamente as disputas teóricas ainda existentes.
oferecer a última palavra acerca das coisas que existem e ocupar o lugar que outrora foi da filosofia.
5
Locke […] admite, a título de direito natural, o direito de propriedade fundado sobre o trabalho e limitado, por consequência, à extensão de terra que um homem pode cultivar, e o poder paterno, sendo a família instituição natural e não política. […] O pacto social não cria nenhum direito novo. É um acordo entre indivíduos que se reúnem para empregar a força coletiva no sentido de executar as leis naturais, renunciando a executá-las por sua própria força. (Émile Bréhier. História da filosofia, 1979.) O excerto apresenta um aspecto da teoria política de Locke, que estabelece
a ausência de um poder soberano.
a autoridade do governo na divisão de propriedades.
a regulação do Estado conforme a vontade divina.
a submissão das famílias à decisão coletiva.
a garantia da defesa de bens individuais.
6
Nas reflexões de Immanuel Kant sobre o conhecimento racional na sua obra “Fundamentação da Metafísica dos Costumes” lemos: “A velha filosofia grega dividia-se em três ciências: a Física, a Ética e a Lógica. Esta divisão está perfeitamente conforme com a natureza das coisas, e nada há a corrigir nela a não ser apenas acrescentar o princípio em que se baseia, para deste modo, por um lado, nos assegurarmos da sua perfeição, e, por outro, podermos determinar exactamente as necessárias subdivisões”. KANT, Immanuel. Fundamentação da Metafísica dos Costumes. Tradução de Antônio Pinto de Carvalho. Lisboa: Companhia Editora Nacional. EDIÇÕES 70, 2007. Sobre a Física, a Ética e a Lógica, é CORRETO afirmar que essas subdivisões
ocupam-se de uma parte empírica em que as leis universais e necessárias do pensar não se assentam em princípios das experiências.
não ressaltam a ideia de uma metafísica da Natureza nem de uma Metafísica dos Costumes pelo fato de que não se pode nomeá-las como uma Antropologia prática.
ocupam-se da forma do entendimento e da razão em estabelecer a distinção das leis da natureza, das leis da liberdade e dos objetos materiais.
baseiam-se em princípios da experiência cujas doutrinas se apoiam em princípios a posteriori da filosofia pura.
não se contrapõem à filosofia natural, também não se contrapõem à filosofia moral, pois cada uma não possui parte empírica.